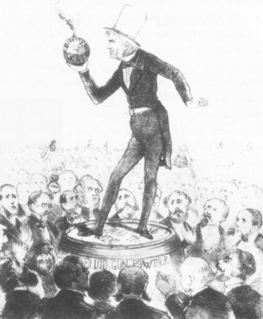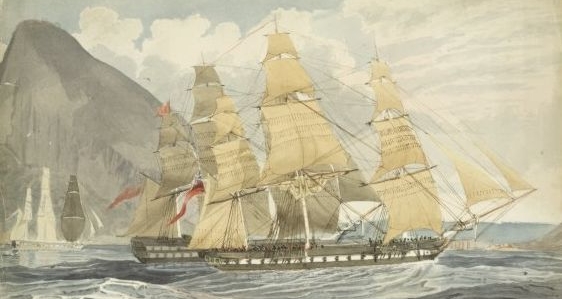Um embaixador
chamado Christie
Em 1858 uma comissão mista foi criada para tratar das questões pendentes
entre os governos do Brasil e da Grã Bretanha. Esta última apresentou
uma lista de reclamações contra o Brasil, somando a enorme quantia de
300 mil libras esterlinas. Grande parte do itens referiam-se a perdas
parciais ou totais de cargas e navios ocorridas desde os idos de 1826.
Da sua parte, o Brasil apresentou reclamações relativas à apreensão de
cargas e navios brasileiros pela Royal Navy, acusados de traficarem
escravos da África.
Embora fosse uma comissão bi-nacional, não era intenção do governo
britânico discutir assuntos de interesse do governo brasileiro, embora
este insistisse na matéria. Para os europeus, estes casos já haviam sido
definitivamente julgados. O impasse levou ao encerramento da comissão em
1960.
As relações entre as duas coroas também possuíam outros "fronts". O
Brasil insistia na revogação da Bill Aberdeen e em melhores condições de
acesso ao mercado de suas monoculturas. A Grã Bretanha, porém, insistia
na renovação dos tratados comercias de 1827, expirados em 1844. O
impasse político e, porque não dizer econômico, estava criado. Somado à
política imperialista britânica, tudo levava a crer que uma solução
diplomática não viria.
O embaixador William Christie sobre um barril de pólvora segurando uma
bomba com os dizeres: "direito das gentes".
|
Dentro deste contexto de relações bilaterais Brasil-Grã Bretanha
chegou ao país um novo embaixador em 1859. William Dougal
Christie era um homem totalmente alinhado com a política externa
de seu país. Seus pensamentos e suas ações refletiam isso.
Christie repudiava os princípios básicos das relações
internacionais de reciprocidade e igualdade. Para ele, a coroa
britânica estava acima das outras nações do mundo e os demais
países deveriam se alinhar com a política do seu governo ou
sofrer as conseqüências.
|
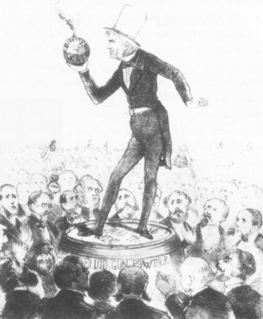 |
Logo de início o embaixador, franco e direto, começou a denunciar o
comércio de escravos na capital brasileira. Enviou relatórios afirmando
dispor de provas de que escravos haviam sido importados da África após a
Lei de 1831. Defendeu os emancipados (escravos libertados por ingleses
por ocasião do apresamento de navios negreiros), exigindo que os mesmos
voltassem para a África ao invés de trabalharem em projetos do governo
ou trabalharem como aprendizes de particulares. Num momento de relações
tensas entre os dois países, um embaixador "linha dura" era exatamente o
que o Brasil não precisava.
O naufrágio do Prince of Wales
No dia 2 de abril de 1861 o mercante inglês Prince of Wales partiu de
Glasgow (Escócia) com destino à cidade argentina de Buenos Aires. Sua
carga era composta de carvão de pedra, engradados de louças, caixas com
lenços e fazendas, pipas e barricas com azeite e vinho. No início do mês
de junho o navio inglês naufragou na costa da província do Rio Grande do
Sul, num local ermo conhecido como costa do Albardão, próximo à
fronteira com o Uruguai.
A notícia do naufrágio se espalhou pela região e alguns dias depois o
cônsul britânico, acompanhado de autoridades brasileiras, foi vistoriar
o local. O navio apresentava indícios de pilhagem e, de todos os
tripulantes, somente quatro corpos foram encontrados. Não havia
sobreviventes.
Era a história que o embaixador Christie procurava. Transformou um caso
de polícia em um incidente internacional. As explicações das autoridades
locais foram consideradas insatisfatórias. Além disso, elas foram
acusadas de negligência e compactuação com o ocorrido. A posição da
embaixada britânica no Brasil era de que o governo brasileiro era
responsável pela pilhagem da carga e pela suspeita de assassinato (nunca
comprovado) dos tripulantes. Segundo a visão britânica, esses argumentos
eram suficientes para solicitar um pedido de indenização.
Semelhanças com o caso "Dom Feliciano"
Cabe aqui uma comparação do naufrágio do Prince of Wales com o
"incidente Don Pacífico", ocorrido da Grécia em 1850. Don Pacífico era
um cidadão português nascido em Gibraltar (colônia britânica) que morava
na Grécia. Em 1847, Pacífico teve a sua casa atacada por vândalos.
Descobriu-se posteriormente que os integrantes da ação eram filhos de um
ministro de estado. A polícia local nada fez. Pacífico reclamou perante
o governo grego, que não lhe deu satisfações. Decidiu então apelar para
o Governo Britânico em 1848, que abraçou o caso.
Lord Palmerston, então Ministro das Relações Exteriores, pressionou o
governo grego por uma compensação. Perante a negativa grega, Palmerston
enviou uma frota da Royal Navy para o Mar Egeu. O navios britânicos
realizaram um bloqueio naval por dois meses aos portos gregos. O governo
grego só concordou em compensar Pacífico após a apreensão de alguns
mercantes.
Houve manifestação contrária da França e da Rússia, mas estes governos,
na prática, nada fizeram. Palmerston sofreu também muitas críticas
internas. No seu discurso perante o parlamento, o ministro defendeu o
império britânico comparando-o ao império romano.
"(...) As the Roman, in days of old, held himself free from indignity,
when he could say, Civis Romanus sum [sou um cidadão romano], so also a
British subject, in whatever land he may be, shall feel confident that
the watchful eye and the strong arm of England will protect him from
injustice and wrong. (...)"
O caso Don Feliciano demonstrou a notável intransigência de Palmerston
diante dos interesses britânicos ou de cidadãos britânicos quando os
mesmos eram afrontados por "nações periféricas". O parlamentar inglês
não media esforços em lançar mão dos instrumentos de poder, como a
marinha britânica, para fazer valer seu ponto de vista.
Desaparecimento de um soldado brasileiro
As discussões sobre o naufrágio do Prince of Wales ainda estavam
acaloradas quando um outro episódio lamentável, envolvendo súditos dos
dois países, tomou parte na capital federal. Na noite de 24 de junho,
membros da fragata britânica HMS Emerald se estranharam com os
tripulantes de um bote do tráfego do porto do Rio de Janeiro. O bote,
tripulado por remadores, dois soldados e um marinheiro, ia do cais do
Pharox para o forte de Villegaignon. Durante os desentendimentos o
soldado do batalhão naval Vicente Ramos Ferreira foi ferido e lançado ao
mar. Seu corpo nunca mais foi encontrado.
As autoridades brasileiras denunciaram dois ingleses, o oficial Francis
May e o marinheiro Willian Langford. O governo brasileiro, através do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, solicitou junto ao embaixador
Christie que os dois envolvidos fossem encaminhados à fragata brasileira
Constituição, onde deveriam aguardar o julgamento. Christie informou que
a Emerald estava de partida para a Europa, mas o oficial e o marinheiro
seriam transferidos para a fragata Forte.
O tempo passou e os ingleses não se manifestaram. Quando indagada, a
embaixada se desculpava sempre com a ausência temporária do embaixador
Christie. No dia 16 de julho o diplomata Evan Baillie, encarregado
interino dos negócios de Sua Majestade Britânica, informou que o
contra-almirante Richard Warren, comandante em chefe da estação, deixou
o porto do Rio de Janeiro levando os dois indiciados para a Grã
Bretanha. Não havia outra alternativa ao governo brasileiro senão
esperar pelo retorno da frota, que aconteceria no final do ano.
E assim o fato se consumou. Em novembro do mesmo ano (1861) o almirante
Warren voltou ao Rio de Janeiro com a sua frota. Novamente a embaixada
britânica foi indagada sobre os dois membros de sua marinha envolvidos
na morte do soldado do batalhão naval. A resposta dada desta vez
exprimia toda a arrogância do Império Britânico naquele período
vitoriano. O Governo de Sua Majestade Britânica simplesmente não
entregaria o oficial e o marinheiro e justificativas não eram
necessárias para tal atitude. Porém, num ato de "benevolência", o
almirante Warren estava disposto a discutir a indenização aos familiares
da vítima.
O Brasil não poderia fazer muito diante dos fatos, mas subiu o tom da
conversa e passou a tratar o assunto diretamente com sua representação
em Londres. Os ânimos se acirravam de ambos os lados.
Oficiais britânicos presos no Rio
Na noite de 17 de junho de 1862 três tripulantes (um capelão, um tenente
e um guarda-marinha) da fragata HMS Forte, totalmente à paisana,
jantavam num hotel localizado no Alto da Tijuca. Ao término da refeição,
e já bastante embriagados (versão negada pelos mesmos posteriormente),
os três britânicos decidiram caminhar em direção à cidade. Ao longo do
trajeto os mesmos molestavam as pessoas que por eles passavam. Por volta
das sete horas da noite passaram pelo posto do destacamento policial da
Tijuca e molestaram a sentinela. Após uma rápida batalha corporal, os
três estrangeiros foram detidos com a ajuda dos demais soldados do
destacamento.
Seria mais um simples caso de arruaça cometido por estrangeiros, não
fosse o estado de nervos à flor da pele em que se encontravam os dois
governos naquela época. O caso foi levado ao embaixador Christie e o
mesmo solicitou explicações junto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Os oficiais (sem qualquer tipo de identificação) foram liberados após
uma noite no cárcere e nenhuma outra ação partiu das partes envolvidas.
Mas o senhor Christie já preparava um final de ano bastante movimentado.
HMS Forte
A origem do nome "Forte" deriva da fragata francesa Forte, capturada em
28 de fevereiro de 1799 pela fragata britânica Sibylle na Baía de
Bengala (Índias Orientais). O navio foi utilizado pela Royal Navy até
junho de 1801, quando afundou no porto de Jedá, Mar Vermelho.
Posteriormente, outros dois navios também utilizaram o mesmo nome sendo
que esta terceira unidade fazia parte da frota britânica baseada no Rio
de Janeiro entre os anos de 1827 e 1830.
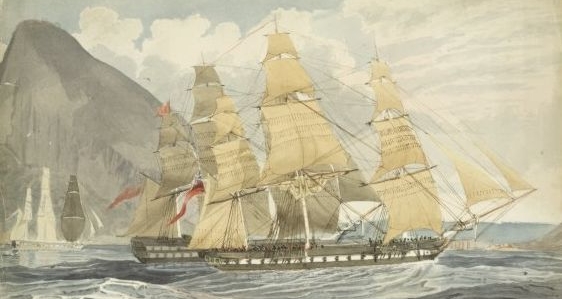
National Library of Australia
A HMS Forte (em primeiro plano), juntamente com o HMS Ganges entrando na
Baía de Guanabara em abril de 1827. A Forte apresentada nessa litografia
foi a terceira unidade da Royal Navy a ostentar esse nome.
A fragata Forte, que operava na estação naval do Rio de Janeiro no
início da década de 1860 era o quarto navio da Royal Navy a ostentar
esse nome. Foi lançada ao mar em 29 de maio de 1858 pelo estaleiro
Deptport, localizado nas margens do rio Tâmisa.
Embora fosse um navio de construção recente, seu desenho ainda exibia as
características dos projetos britânicos anteriores à Guerra da Criméia,
tais como ausência de couraça e propulsão mista (vela/hélice). Naqueles
tempos, as armações veleiras garantiam a necessária autonomia de
cruzeiro. Em outras circunstâncias, o velame era recolhido e a ordem
"chaminé acima, hélice abaixo" era dada.
Dois anos depois do lançamento da Forte, a Grã Bretanha já estava
construindo navios com casco de ferro e canhões de retro-carga. Era uma
época de intensa inovação tecnológica no meio naval.
Em junho de 1861, assumiu o seu comando o capitão Thomas Saumarez. Neste
mesmo ano o vice-almirante Warren tornou-se o comandante em chefe da
estação naval do Rio de Janeiro e costumava arvorar o seu pavilhão na
fragata Forte.
A ação naval britânica
Enquanto o governo brasileiro pensava que os assuntos recentes do
naufrágio do Prince of Wales e a detenção dos oficiais britânicos tinham
sido esquecidos pela coroa britânica, o Foring Office coordenava com a
Marinha Real e com a sua embaixada no Brasil uma resposta definitiva aos
"atos insolentes daquela exótica monarquia tropical".
A devida resposta ao governo brasileiro, e relativas exigências, bem
como as ações em caso de negativa foram tramadas entre os meses de
setembro, outubro e novembro. Com o plano pronto, o embaixador Christie
pôde finalmente redigir sua nota. Na verdade foram três notas datadas de
5 de dezembro de 1862. A primeira delas tratava basicamente do naufrágio
do Prince of Wales. A coroa britânica considerava o governo brasileiro
como responsável pela investigação da morte dos tripulantes e pelo
sumiço da carga. Sendo assim, foi estipulada uma indenização pelo
carregamento e provisões e pelo frete. A quantia total era de 6.525,19
libras esterlinas.
Em relação ao incidente com os oficiais britânicos na Tijuca, a dura
nota do embaixador Christie trazia as seguintes exigências:
que se desse baixa do serviço do alferes da guarda;
que a sentinela fosse adequadamente castigada;
que uma satisfação fosse dada ao governo de Sua Majestade Britânica;
que o chefe de polícia e o oficial que recebeu os militares britânicos
fossem publicamente censurados.
Por último, numa curta e ríspida nota, o embaixador estipulava o dia 20
de dezembro (ou seja, 15 dias de prazo) como data limite para que o
governo imperial brasileiro desse sua resposta às duas notas anteriores.
Obviamente nada foi dito sobre o incidente do bote do tráfego do porto
do Rio de Janeiro que resultou na morte de um soldado do batalhão naval.
O mês de dezembro foi marcado por diversas tentativas de reverter a
situação imposta pelo ultimato britânico. No entanto, no dia 29 o
marquês de Abrantes, novo encarregado da pasta dos Negócios
Estrangeiros, emitiu nota oficial repudiando o ultimato e encerrando o
texto da seguinte maneira:
"(...) por muito que deplore os males que desta sua deliberação poderão
resultar, julga preferível e mais honroso sofrê-los do que sacrificar o
decóro e a dignidade nacional (...)"
A resposta do embaixador britânico não tardou. No dia seguinte, Christie
emitiu uma nota onde recusava categoricamente as explicações do governo
brasileiro, bem como os memorandos que, na visão do embaixador
britânico, não apresentavam nenhum fato novo. Em tom forte, a nota
britânica do dia 30 anunciava uma amarga passagem de ano para o
relacionamento entre as duas nações.
"(...) O governo de Sua Majestade, posto que esperasse vivamente que
suas exigências terião sido aceitas, julgou acertado providenciar acerca
da possibilidade de uma recusa; e o almirante Warren, comandante e
chefe da esquadra nesse porto, procederá imediatamente, de conformidade
com as instruções que lhe forem ministradas, a dar os passos
necessarios para fazer as represalias em propriedade brasileira.
A propriedade que for apressada será retida como garantia, até que o
governo de Sua Majestade obtenha a satisfação que o governo do Imperador
tem total e peremptoriamente recusado, a não ser compellido por força
superior.
Não careço dizer a V. Ex. que as represálias são um modo entendido e
reconhecido pelas nações, de obter justiça, quando é esta de outro modo
recusada, e que elas não constituem um ato de guerra.
As medidas que serão tomadas pelo almirante Warren estão no limites do
estado de paz. Depende do governo do Imperador ficar nestes ou
transpô-los. Na viva esperança de que a paz não será perturbada, e no
ardente desejo de que voltem as cordiais relações que a Grã Bretanha
procurou sempre cultivar com o Brasil, mas que não podem existir se o
governo brasileiro recusa com perseverança a reparação das injurias
feitas a súbditos britânicos, rogo a V. Ex. e aos seus colegas que se
lembrem que pesará sobre o ministro uma grave responsabilidade se uma
violenta resistência ás represálias, ou medidas de contra represálias,
ou ofensas às pessoas ou propriedades britânica que residem no paiz,
levarem a maiores e mais deploráveis complicações. (...)"
Estava claro que as palavras do embaixador britânico não eram parte de
um blefe diplomático. Tudo caminhava para um desfecho militar, com o
emprego de navios de guerra. A sombra do "incidente Don Feliciano"
passou a pairar sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Na tarde do dia 30, o vapor de guerra HMS Stromboli partiu
silenciosamente do porto da cidade do Rio de Janeiro. Na manhã seguinte
foi a vez do HMS Curlew desatracar sem maior alarde. Conforme instruções
do almirante Warren, a missão desses dois navios era capturar
aleatoriamente embarcações brasileiras até que o valor destas
compensasse a reparação exigida pela coroa britânica.
Prevendo eventuais reações por parte da população brasileira (conforme
demonstrado no combate de Paranaguá), o almirante Warren deu ordens para
que os demais navios de sua frota fossem espalhados pelos principais
portos brasileiros. Assim, o Sattelite foi enviado para a Bahia, o
Dotterel para o Rio Grande do Sul e um terceiro para Pernambuco. Embora
os Britânicos não tenham usado essas palavras, o que a frota da Royal
Navy praticou no país foi um verdadeiro "bloqueio naval".
Enquanto o almirante Warren posicionava seus navios, o governo
brasileiro agia por outros meios. De forma ardilosa, toda a documentação
trocada entre os dois governos "vazou" para a sociedade. Num discurso
público, o ministro da agricultura, comércio e obras públicas, atacou
duramente o ultimato do senhor Christie, desqualificando-o e colocando-o
como principal entrave entre as relações binacionais. O ultimato pegou a
população de surpresa, que passou a olhar o embaixador Christie como "persona
non grata". Seguindo nesta linha, o Diário Oficial publicou nos dias 1 e
3 de janeiro insinuações de que os procedimentos adotados pelo Sr.
Christie não eram aprovados pelo de Sua Majestade Britânica. Toda esta
campanha propagandista, muito bem arquitetada, tinha como pano de fundo
jogar a opinião brasileira contra o embaixador britânico.
Museu Nacional de Belas Artes

População da capital Rio de Janeiro cerca o monarca D. Pedro II durante
o episódio conhecido como Questão Christie.
Quando Stromboli , navio que participou do apresamento, retornou ao
porto do Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro de 1863 trazendo a guarnição
e os passageiros daqueles barcos aprisionados, encontrou uma população
ensandecida e revoltada. Ao todo, cinco embarcações foram capturadas: o
vapor Paraíba, o patacho Chaves, as sumacas Áurea e Senhora do Carmo e o
palhabote Trinta e Um de Outubro. As mesmas foram enviadas para a baía
das Palmas e ficaram sob a guarda do comandante Forbes do HMS Curlew.
O Brasil não podia fazer muito mais. Diante de um adversário
militarmente mais forte e apoiado por um governo belicista, coube ao
país pagar, sob protesto, o montante solicitado pela Grã Bretanha para o
caso do naufrágio do Prince of Wales. Em relação aos oficiais da fragata
Forte, o caso foi deixado para o arbitramento internacional, a cargo do
Rei Leopoldo I da Bélgica. Após a resposta, o embaixador Christie
solicitou que o almirante Warren cessasse imediatamente as represarias e
desse ordem para o "relaxamento das presas já feitas".
O estrago já estava feito. A campanha contra o embaixador britânico só
cresceu no país e até adquiriu alguns adeptos na Inglaterra. Diante da
situação insustentável, Christie deixou o Brasil. Seu posto foi assumido
interinamente pelo Sr. Willian C. Eliot.
Mas o caso não havia terminado. O governo brasileiro, através da sua
representação em Londres, ainda encaminhou um pedido de indenização em
função da apreensão de embarcações feita pelo almirante Warren no início
do ano de 1863, além da exigência de desculpas pela violação do
território nacional. Em virtude da resposta negativa, o ministro
brasileiro na Corte de Saint James encerrou sua nota de 25 de maio da
seguinte forma:
"(...) Na situação em que esta recusa o colloca, não lhe resta outra
alternativa senão, obedecendo ás ordens de Sua Majestade o Imperador,
declarar ao muito honrado conde Russel que o governo imperial, não
podendo sujeitar-se ao peso de uma offensa irreparável, cede á
necessidade de interromper suas relações com o Governo de Sua Majestade
Britannica; pelo que tem a honra o abaixo assignado de informar a S. Ex.
que cessão também desde agora as suas funções officiaes, e pede-lhe que
queira ter a bondade de mandar-lhe os competentes passaportes para si,
para a sua família e para o pessoal de sua legação (...)"
Faltava, no entanto, o resultado do arbitramento internacional em
relação à questão da prisão dos oficiais da fragata HMS Forte. No dia 21
de junho o representante do governo brasileiro em Bruxelas foi recebido
na corte do rei Leopoldo I. O resultado do litígio era amplamente
favorável ao Brasil. E o rei belga assim decidiu:
"(...) Nous sommes d´avis que, dans la manière dont les lois
Brésiliennes ont été appliquées aux officiers Anglais, il n´y a eu ni
préméditation d´offense ni offense envers la Marine Britanníque. [Na
maneira por que as leis brasileiras são aplicadas aos oficiais ingleses
não houve, nem premeditação de ofensa, nem ofensa á marinha
britânica](...)"
O governo brasileiro insistiu em uma saída diplomática para a situação
até às últimas instancias em que poderia chegar. Agiu da forma sempre
elegante, mas sem deixar de endurecer quando a situação assim exigia.
Não era interesse do país romper com a Grã Bretanha. O inverso também
era verdade. Os laços que ligavam os países (políticos, econômicos,
tecnológicos e até mesmo militares) eram muito fortes. Mas então o que
deu errado?
Esta questão foi grandemente respondida ao longo do texto. A escalada de
atritos, ocorrida ao longo dos anos e intensificada a partir de 1859 com
a chegada do embaixador Christie, culminou com a ação naval britânica e
a reação brasileira de romper relações.
O Governo de Lord Palmerston era o exemplo típico do imperialismo
britânico e de suas peculiaridades no século XIX. Sempre que necessário,
empregava-se a coerção como forma de impor sua vontade, seus costumes e
seus acordos comerciais. A Guerra do Ópio, as revoltas na Índia (ver
texto anterior) e o incidente Don Feliciano demonstram a forma como o
império agia. Diante desses fatos, a ação naval britânica no Rio de
Janeiro só pode ser entendida como uma extensão do imperialismo e não
como um fato isolado, originado por um embaixador "linha dura".
Descarregar toda a culpa do episódio no embaixador Christie era uma das
estratégias do governo brasileiro. Mas está longe de ser a verdade. O
embaixador apenas cumpria as ordens do seu governo. Nem mesmo o fato de
Christie estar intimamente alinhado com a política externa britânica é
razão para jogar todo o fardo sobre suas costas.
Do lado brasileiro, a intransigência britânica levou a população
brasileira a exigir um mínimo de ação. Caso o governo não tomasse
nenhuma atitude, a população poderia revoltar-se contra o Imperador. Mas
o rompimento de relações acalmou os ânimos mais afoitos. Tanto é verdade
que, num primeiro momento, o rompimento de relações elevou em muito a
aprovação do Imperador.
Mas por que não uma reação militar contra a esquadra britânica? Para
responder essa pergunta é necessário primeiramente analisar a Marinha do
Brasil nesta época.
A Marinha do Brasil em 1860
A frota brasileira surgiu do nada a partir da independência em 1822.
Graças ao auxílio de estrangeiros (principalmente ingleses), ela foi
capaz de expulsar os portugueses, apaziguar as revoltas e interferir nos
países limítrofes (principalmente questões na Bacia do Prata). A Marinha
do Brasil evoluiu para uma esquadra de porte respeitável em caráter
regional já nos anos de 1830-1840.
A partir década de 1840 esforços foram feitos para dotar a marinha de
embarcações de grande porte de propulsão mista vela/vapor (como o vapor
D. Afonso, lançado ao mar em 1847). Avanços na parte de armamento
surgiram somente por volta de 1850, com a introdução de canhões de aço
(e não mais de bronze) e sistema tipo Paixhans (alma lisa). Já no final
desta década, o Brasil teria sua primeira experiência com canhões
raiados, carregado pela culatra (duas peças Whitworth instaladas na
Niterói).
|
 |
Mas toda essa tentativa de manter e atualizar a esquadra não poderia se
igualar à dimensão do poder de fogo naval do Império Britânico. Os
avanços citados acima já eram corriqueiros na Royal Navy nos idos de
1850-1860. Além disso, em 1860 a Grã Bretanha lançou mais um navio que
revolucionaria a construção naval mundial, o HMS Warrior, primeira
embarcação com o casco todo de ferro.
S. Walter
O vapor de rodas Dom Afonso era um exemplo típico dessa classe de navios
na Marinha do Brasil nos idos de 1860. As rodas laterais reduziam muito
o número de bocas de fogo.
Em termos de poder de fogo a fragata Constituição era o navio com maior
número de peças, totalizando 28 a 33 bocas de fogo. Mas a Constituição,
única fragata brasileira na época, já não tinha condições de navegar em
função do péssimo estado do seu casco. Descendo na hierarquia, vinham as
seis corvetas. Eram todas movidas a vela e possuíam entre 11 e 22 bocas
de fogo. Os vapores de guerra dividiam-se em dois grupos: vapores a
hélice e vapores de rodas. Ao todo, somavam mais de vinte embarcações e
o seu armamento variava entre uma e dez bocas de fogo. Existiam ainda
navios veleiros armados como brigues, escunas, iates, brigues-escunas e
brigues-barcas.
Até 1861 a Marinha do Brasil distribuía suas embarcações em pequenos
grupos alocados nas diversas estações. Assim, existiam sete estações
(Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do
Sul e Rio da Prata), além dos "navios soltos" (aqueles que não estavam
designados para nenhuma das estações).
A partir de 1862 a frota foi separada em três "divisões", sendo que a 1ª
divisão baseada no Rio de Janeiro e a 2ª e a 3ª divisões na região
norte/nordeste. Mato Grosso e Rio Grande do Sul mantiveram suas
respectivas forças navais, mas agora denominadas "flotilhas". A estação
do Rio da Prata foi mantida, assim como os navios soltos.
As embarcações armadas que compunham a 1ª divisão na época em que os
britânicos apresaram mercantes brasileiros na costa do Rio de Janeiro
encontram-se listadas na tabela abaixo. Observar o número de unidades
deslocadas para a região norte do país.
Comparando-se os navios da flotilha britânica com a 1ª divisão naval o
Rio de Janeiro é possível observar uma inferioridade numérica das forças
brasileiras. Além disso, o poder de fogo dos navios da Royal Navy era
superior. Questões como prontidão dos navios, experiência da tripulação
e tecnologia das embarcações também eram amplamente favoráveis aos
britânicos.
Portanto, o não emprego da Marinha do Brasil no episódio em questão foi
uma atitude sábia. Um conflito armado com a maior potência de sua época
poderia reduzir, ou mesmo dizimar a Marinha do Brasil por questões de
pequena monta. Outros interesses regionais eram mais importantes para a
nação e a defesa deles dependia de uma marinha, senão ideal, pelo menos
com uma certa capacidade bélica.
Conforme publicado por um jornal inglês da época, "três marinheiros
bêbados e a abertura de algumas caixas lançadas ao litoral por um
naufrágio" não podia ser motivo para um conflito militar entre duas
nações amigas. A questão Christie é um bom exemplo de como as relações
diplomáticas podem evoluir rapidamente do campo da diplomacia para ações
bélicas.

Baia da
Guanabara
Após a Questão Christie, as defesas da Baía de Guanabara foram
modernizadas. Na foto, a fortaleza de Santa Cruz da Barra que recebeu a
construção de casamatas em três pavimentos e moderno armamento estriado.
O lado positivo do episódio foi o despertar da população e do governo
brasileiro para os assuntos relacionados à defesa do país. O exército
recebeu verbas para reformar e reaparelhar diversas fortificações
espalhadas pelo litoral brasileiro, principalmente no entorno da capital
federal.
Através de subscrição pública, foi levantada uma quantia suficiente para
adquirir um moderno encouraçado (o primeiro da marinha) na França,
denominado Brasil. Assim que sua construção foi concluída em 1865, o
Brasil seguiu direto para a bacia do Prata, onde já estava em andamento
a Guerra do Paraguai.